O táxi parecia que nunca ia chegar no tal hotel de Copacabana. As ruas escuras e semi-desertas do centro do Rio foram gradualmente dando lugar a avenidas mais iluminadas e com mais movimento. Chegamos finalmente ao bairro que nunca dorme. As prostitutas e os michês disputavam os melhores pontos da Avenida Atlântica. O Taxi percorreu algumas ruas e precisou pegar alguns atalhos, porque havia um problema qualquer de tubulação estourada e a Cedae estava consertando. Pelo menos foi o que ele falou, mas a julgar pela fama dos taxistas da Cidade do Rio, é bem difícil confiar. Ele rodou bastante, pegou a Barata Ribeiro, cruzou duas ruas transversais e durante todo este tempo, eu via meu amigo ali, quieto, amuado. Era como se estivesse preocupado ou ansioso. Eu também estava ansioso, mas não sabia o que esperar. Ainda havia algo em mim que desejava desesperadamente que ele estivesse inventando ou exagerando, pelo menos nas partes piores.
Vê-lo tenso, quieto, paradão ali no táxi me deixava um pouco aflito e tentei contar piadas para disfarçar, talvez para me enganar, já que no fundo, cada vez mais eu queria era descer daquele táxi e correr daquele cara.
Enfim, ali estávamos, diante do hotel. Renato sacou um bolo de dinheiro do bolso e pagou a corrida. O Taxista fez uma cara estranha aos nos ver juntos descendo diante de um hotel. Certamente pensou que fossemos um casal de gays. Se hoje a coisa já é meio estranha para o lado dos gays, imagina naquela época. Minhas piadas machistas no carro não ajudaram nada em me dar uma aura de machão. Pensando bem, certamente que o taxista deve ter pensado que eu estava tentando disfarçar. Deve ter tido efeito reverso.
Entramos no hotel. Apesar de toda a grana, Renato era um pão duro profissional. O lugar era um moquifo de sexta categoria que poderia facilmente rivalizar com os hoteis do centro, frequentados por pedreiros e piranhas rampeiras da Praça Tiradentes.
Só tinha um vigia ouvindo um futebol numa radio AM parcialmente fora do ar. Ele nem olhou na nossa cara. O Hotel era tão vagabundo que o Renato tinha saído e levado a chave do quarto com ele. Felizmente o vigia não esboçou qualquer movimento, senão virar os olhos cansados para nossa direção por dois segundos e voltar a fixá-los no radinho amarelado.
Subimos os quatro andares pelas escadas, já que o único elevador do hotel, uma relíquia de porta pantográfica da marca ATLAS estava quebrado.
Chegamos ao andar. Um cheiro de cigarro e produto de limpeza barato inundavam o ambiente. O quarto era lá nos fundos. Renato foi andando na frente, sempre quieto. Eu notei que ele movia os braços de forma meio descoordenada, certamente para disfarçar que estava tremendo. Então, no pequeno percurso de uns vinte metros que percorremos no corredor, eu percebi algo que havia passado batido da minha compreensão. Renato devia ter claramente disfarçado as partes e que ele mais sofreu, mais teve medo. Nenhum homem quer revelar sua fragilidade a um amigo, ainda mais os de infância. Renato não devia ser excessão. Quando ele contava que levou chicotadas numa caverna por um velho decrépito, deve ter sido muito pior do que a forma como ele estava contando. Eu comecei a notar que ao contrário do que eu esperava, Renato não tinha exagerado para pior, mas talvez tivesse atenuado suas próprias reações diante do horror e do inesperado. Vê-lo tão ansioso e preocupado me deu um real balizador, um prisma por onde revi toda a longa história que começara numa quitanda de cidade do interior.
Renato girou a chave na fechadura oxidada e subitamente parou. Ele olhou pra mim e vi o terror estampado em seus olhos, ampliados pelas lentes grossas dos óculos.
-Que?
-Ela… Eu acho que ela ainda está aí. Mas…
-Eu sei, ela pode ter sumido.
-Sim. Eu não posso garantir que ainda esteja. Quero deixar isso claro antes que você me chame de bicha mentirosa.
-Tudo bem, só vou chamar de bicha. Vai bicha! Abre logo essa bosta. – Eu disse, tentando disfarçar minha voz embargada. O corredor escuro e todo aquele suspense estava praticamente me fazendo querer gritar feito uma louca e sair correndo dali o quanto antes. Era cada vez mais difícil bancar o corajoso.
Quando ele abriu a porta do quarto, lá estava ela. Iluminada pela luz fraca que entrava pela janela. O brilho do Neon de uma boate bem em frente ao hotel tornou a minha primeira visão da cadeira do inferno algo que nunca mais esqueci. Era verdade. Era tudo verdade e santo Deus! Como ela era igual. Percebi ali que o maior talento do meu amigo era para descrições. Ele tinha descrito a cadeira exatamente como ela era.
Renato rapidamente meteu a mão no interruptor e a lâmpada de 60 Watts pendurada num fio no centro do quarto se acendeu. Tudo estava como ele deixou. A cama bagunçada e a mala cheia de roupas saindo pelos lados jogada numa cadeira ao lado da cama. Uns jornais espalhados pelo chão, uma Tv bem antiga no canto, colada na parede… E ali, impávida, diante da cama: A cadeira.
-Caralho. – Eu disse.
Me limitei a uma blasfêmia na medida em que nada parecia mais apropriado para aquilo.
Renato sentou-se na beira da cama. O quarto não era muito grande. Nos dois e a cadeira estávamos lotando o quarto. Ele acendeu um cigarro. O cheiro da fumaça era intoxicante.
-Tu não largou essa merda?
-Queria conseguir me livrar dessa merda. – Ele disse, olhando fixamente para a cadeira.
Eu não sabia se ele falava do cigarro ou da cadeira. Acreditei que talvez ele falasse de ambos.
O cigarro desenhava nuvens fantasmagóricas no ar. Fiquei por um tempo contemplando aquilo.
-A gente tem que se livrar dessa bosta então, cara. – Eu disse, rompendo o silêncio contemplativo.
-Que horas tem? – Renato perguntou, apontando meu relógio.
-Quinze pras quatro.
-Vai amanhecer daqui a pouco. Vamos tirar essa porra daqui? Vamos sair com ela para algum lugar? – Ele sugeriu.
Eu concordei, mas não sabia para onde. Nem ele. Só sabíamos que tínhamos que levar aquela merda do hotel antes de amanhecer.
Descemos a cadeira com cuidado pelas escadas. Ela era difícil de transportar, porque as escadas eram apertadas, em quase um caracol, e a cadeira passava bem rente a parede. Os chifres, de bode de verdade, algumas vezes até rasparam nas paredes do hotel. Foi uma operação para descer aquele trambolho até o térreo. Renato foi até a portaria para se certificar de que o Vigia não estava de prontidão.
Eu fiquei ali, sozinho, no corredor escuro do segundo andar com a maldita cadeira. Olhei para aquele negócio e pensei no que aconteceria se eu me sentasse nela. Notei aquele súbito pensamento e comecei a me perguntar se era o meu pensamento ou se a cadeira estava tentando me atrair para sentar nela. Tive um medo. Um medo tremendo, que se apossou de mim no escuro como um bandido que salta na frente da vítima. Mas nesse caso, o bandido era meu próprio pânico. Pânico de estar sendo usado. Nos minutos que decorreram ate o Renato descer ao primeiro andar e verificar o status do Vigia, abrir a porta do hotel e voltar para e ajudar a descer a cadeira, tive medo que ele estivesse me usando para enfim me obrigar a sentar naquilo e passar a maldição dele para mim. Ele bem que seria capaz disso… Pensei.
Ouvi os passos dele no corredor. Talvez, o que eu devesse fazer era fingir que não sabia que ele tinha esse plano maligno, e na hora H, eu lutaria com ele, e o obrigaria a sentar na maldita cadeira. Eu precisava estar preparado, pois Renato nunca foi muito digno de confiança. Passava os outros para trás com grande desfaçatez desde a infância. Não era nem um pouco improvável que ele fosse me usar para se livrar da cadeira obscura.
Ou não. Ou talvez todos aqueles pensamentos estivessem realmente emanando da cadeira. Talvez a cadeira estivesse me usando, tentando me influenciar a lutar com ele e colocá-lo sentado nela. Porque era isso que ela queria. Ela queria a ele. Ele havia sido escolhido. A sina era dele e não minha. Certamente era isso. Certamente a cadeira estava emanando os maus pensamentos.
Renato voltou. Ele fez um sinal com o polegar de que estava tudo jóia.
Eu não disse nada nem externei nenhuma desconfiança. Peguei a cadeira pelas pernas e ele me ajudou. Descemos a cadeira o último lance de escadas e passamos diante do vigia, que babava na mesa. O radinho ainda parcialmente fora do ar tocava o que parecia ser um hino de igreja.
Ganhamos a rua. O ar era gelado com um cheiro de salgado. Era o mar. A maresia de Copacabana, quase um ente permanente da cidade. Eu encostei a cadeira junto a parede, do lado de fora do hotel. Passou um homem de bicicleta e ficou olhando a cadeira.
-O que a gente faz?
-Segura aí que eu vou ali na rua de trás pegar a caminhonete.
-Tá, mas e depois?
-Depois a gente dá nosso jeito. Vamos! Toma conta dela aí que eu já volto.
Fiquei ali com a cadeira maldita. Na luz azul que filtrava entre os prédios pude ver mais detalhes. Eu estava pregado. O sono me dominava. Mas logo o sono daria sumiço diante do desespero crescente que se apoderaria de mim no decurso de poucos minutos.
Vi quando surgiu na esquina um menino. Era um menino de rua. Estava maltrapilho. O povo chamava de pivete. Eu morria de medo de pivete, porque eles costumavam dar umas navalhadas. Eram tão perigosos quanto os travestis da Lapa, só que bem mais inconsequentes, e raramente andavam sozinhos. Ver um era quase certeza de ser assaltado. O menino me viu de longe. A gente sabe quando está sendo observado. Eu me senti o típico bicho africano que sabe que tem um leão em algum lugar mas ainda não viu onde.
O menino veio chegando e eu tentava não aparentar medo. A porta do hotel tinha se fechado e eu precisaria acordar o vigia para correr la pra dentro. Calculei mentalmente as distâncias e vi que não ia dar. O pivete estava vindo muito rápido. Tentei olhar ao redor. Ele estava confiante, ia dar o bote. Certamente devia ter pelo menos mais dois ou três escondidos perto da banca de jornal do outro lado da rua.
O moleque veio chegando. Eu senti que estava fodido. Meti a mão no bolso de trás com astúcia, como se fosse sacar um revólver. Eu não tinha nada, mas esperava que meu movimento brusco o impedisse de me assaltar. O moleque chegou. Estancou há uns três metros de onde eu estava. Cruzou os braços e ficou me olhando, intrigado.
-Ou. – Eu disse. -Rapa fora!
-Que é? – Ele falou, ainda ameaçador. Eu vi a morte nos olhos dele. O moleque certamente tinha morte nas costas. A gente nota isso no olhar frio de quem já matou. É uma marca que não sai. É uma marca indelével que vai pro tumulo com a pessoa.
-Sai fora. – Eu disse, decidido. Tentando manter meu tom autoritário. O moleque tinha uns dezesseis anos ou talvez menos. Talvez fosse quinze, ou quem sabe um garoto de treze bem desenvolvido. As pernas eram finas, magras, quase um esqueleto. A camisa era do flamengo, furada. Não vi o numero mas calculei que fosse a camisa do Zico. Certamente roubada. Um shortinho branco, mas que já estava amarelo, e sujo de graxa. Logo notei que ele devia fazer bicos como mecânico de dia ou ajudante. Sim, talvez ajudante. Definitivamente não teria nem idade e nem capacidade para ser um dono de oficina, ou borracheiro. Devia ajudar alguém em troca de tostões e de noite ganhava a vida roubando turistas. Eu ali, na porta do hotel, parecia um alvo perfeito, praticamente pedindo que fosse assaltado.
-Tem horas aí tio? – Ele perguntou. Saquei logo qual era a dele. A manobra de sempre. Perguntar as horas tinha sempre três finalidades. Distrair o turista. Saber se o turista era gringo ou não e poder ver com detalhes se o relógio compensaria o bote.
-Eu sei qual é a tua. Vai procurar tua turma, mané!
-Coé, tio?
Então, enquanto eu estava naquela situação escrota, começou a me ocorrer uma ideia. Uma ideia perversa, mas que fazia todo sentido. Eu só precisava convencer aquela merda de criatura detestável e por que não dizer, descartável, a sentar naquela merda de cadeira. Tudo se resolveria ali mesmo. O demônio ia sair da cadeira, e meu amigo estaria livre do pesadelo. O mundo ganharia um demônio a mais, mas isso certamente eliminaria um desgraçadinho batedor de carteira. Tão logo pensei já mandei brasa na ideia.
-Quer comprar a cadeira garoto?- Eu disse, apontando o móvel.
O moleque me olhou desconfiado. Antes ele parecia arredio, com medo. Estava sentindo o risco de me abordar. Mas ao oferecer a cadeira a ele, sua expressão mudou completamente. Ele agora me olhava com o olhar intrigado como o de quem vê um maluco comendo fezes.
-Como assim?
-Te vendo! Olha aí. Bonitona. Tu pode pegar e revender na feira da praia hoje mesmo.
-Tu roubou? – Ele perguntou, sorrindo com dentes amarelos e cariados.
-Eu dei de ombros, como quem responde “sim”, sem falar diretamente.
O moleque veio chegando. Olhou a cadeira com cuidado.
-Ela é boa de sentar. – Eu disse.
-É?
-Claro, pô. Tenta aí.
-Não, tio. Vou sujar ela.
-Que isso, rapaz. Senta aí pra ver. Coisa boa.
-Não tenho dinheiro. – Ele disse.
-Troco na tua medalhinha. – Respondi, apontando o cordão de ouro, claramente roubado de algum turista que ele trazia no pescoço, disfarçado dentro da camisa do Flamengo.
-Aí me quebra, tio. Só tenho isso aí…
-Deixa de ser burro, rapaz. Como que cê chama mesmo?
-Sirley.
-Então, Sirley. Senta aí meu. vê a qualidade do material. Coisa boa, mermão! Certamente que tu vai vender essa porra aí na praia em meia hora. Quando os gringos ali do Copacabana Palace saírem para o banho de mar certamente tu ja deve vender.
Cometi um erro. Um erro tremendo. O moleque veio com gana de sentar. Eu me senti um filho da puta fazendo aquilo. Mas fiquei quieto. Deixei rolar. Eu queria mesmo que ele sentasse para ver se a história era aquilo tudo mesmo, mas para meu azar a porra do Sirley tinha uma estrela… E ele chegou, fez menção de sentar e parou.
Me olhou intrigado.
-Tá com pressa de vender, né tio? Por que? Vai dar galho no cabrito aí?
-Eu tinha cometido o pior dos pecados do comércio. Pareci desesperado. Ele era moleque de rua, deve ter crescido cavalgando pelas calçadas, correndo, roubando loja e pressionando gente que comia pastel para dar um pra ele. Estava claro que apesar de ser um menino esquálido, ele não era bobo. Na rua, o bobo morre cedo. O moleque começou a desconfiar, com toda razão que eu era cana.
-Que isso, rapá. To te dando a moral aí! – Eu disse, me esforçando para ficar no limiar viável do “malandrês”.
O tal Sirley me olhou de cima abaixo, desconfiado. Eu sabia que quilo ia dar merda. Ele começou a achar que estava numa arapuca. Meu malandrês estava muito canastrão.
Nisso, para meu azar mais supremo, o Renato encostou a caminhonete bem em frente.
O Sirley olhou pra ele, olhou pra mim. Estava claro para o moleque que eu era polícia tentando fazer arapuca de pegar menino de rua. Ele deve ter pensando na hora que eu era PM à paisana preparando para queimar a molecada de Copa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Sirley estava correndo mais que o Joaquim Cruz. De longe vi Sirley, o velocista, se juntar a outros três neguinhos, igualmente ágeis. Minha percepção inicial estava certa. Eles estavam me cercando. Ele ia dar o bote. Talvez a chegada de Renato tivesse sido não um azar, mas uma sorte. Provavelmente o moleque ia me distrair para outro vir por trás e me esfaquear.
-Mas que porra foi essa aí? – Renato perguntou, saindo do carro.
Apontei os moleques já longe e disse: – Alá os vagabundos! Se você não chega, eu tava lascado.
-Esses moleques são foda.
-Um dia chega um doido e passa fogo neles. Eles ficam vagando, tem um porradão deles lá na Candelária, tomam banho na fonte lá e dormem na saída de ar do metrô da Uruguaiana. – Eu disse, sem sequer imaginar que estava prevendo o futuro. Aquilo realmente aconteceu alguns anos depois.
Colocamos a cadeira na caçamba da caminhonete e saímos. O sol estava raiando. O movimento nas ruas de Copa estava aumentando rapidamente.
-E aí? Pra onde agora? – Perguntei.
-Sei lá. – Renato respondeu, dirigindo compenetradamente.
-Já sei. Vamos levar lá pra barra. Lá pros lados do autódromo. A gente larga ela num terreno baldio e sai fora.
-Isso não adianta. – Eu já fiz isso e não deu certo. Eu joguei ela no mato e ela apareceu no caminhão, lembra? – Ele disse, pisando fundo no acelerador.
-Então… Temos que destruir essa bosta. Já sei. Vamos botar fogo nela, porra!
Finalmente vi quando os olhos de Renato Brilharam. Eu sabia que ele tinha gostado da ideia.
Partimos em direção à Barra da Tijuca. No caminho, Renato encostou num mercadinho da Gávea onde comprei duas garrafas de álcool e fósforos.
Quase uma hora depois estávamos diante da cadeira. Ela estava no meio de uma clareira num terreno baldio de Vargem Grande. O terreno era perto de um lixão irregular. Basicamente era um lugar ermo e abandonado, cheio de poças de lama e cheiro de esgoto, onde os caminhões de entulho descarregavam irregularmente. Um lugar perfeito para queimar uma cadeira velha. Em meio a à grandes arbustos de mamona e montanhas de jornais velhos, preparamos a fogueira. Cobrimos a cadeira com um monte de jornal. O Renato achou uma toalha velha ressecada no meio da sujeira e embebemos ela com álcool. A toalha foi cuidadosamente usada para cobrir a cadeira, já repleta de jornais velhos.
Joguei o outro vidro de álcool. Derramei copiosamente, inundando os jornais ao redor da cadeira. O renato ainda espalhou umas madeiras e troncos em volta. Ventava bastante e isso certamente iria ajudar a propagar a fogueira. mas atrapalhou muito a acender o fogo. O vento toda hora apagava o maldito fósforo. A solução foi o renato fazer uma paredinha com o casaco onde eu consegui com quatro palitos de uma vez acender uma tocha de jornal amassado. Quando pegou legal, joguei de longe em cima da cadeira.
FLOOOWP!
O fogaréu foi inesquecível. Uma labareda gigantesca se levantou diante de nós dois. Renato ameaçou a correr. Pensei que talvez ele tivesse com medo de que o fogo abrisse uma porta direto para o inferno e a criatura saísse. Mas Renato estava correndo desesperado demais e gritou : – “Corre porraaaa!”
Eu não entendi a princípio, mas quando o vi correr, entendi! Ele tinha feito uma bomba. Tinha largado meia garrafa de álcool fechada no assento da cadeira sinistra. Pra ele, não bastava tacar fogo, tinha que explodir aquela merda.
Corri e antes mesmo que eu o alcançasse, uma puta duma explosão aconteceu atrás de mim, quase me jogando no chão. TInha fogo pra todo lado no terreno baldio.
Cheguei ate onde Renato estava e sentamos na grama para ver queimar. Ele estava ofegante e não dizia nada.
-Volta pro inferno desgraça! – Eu disse.
Renato deu uma gargalhada. Acendeu um cigarro e ficamos ali, juntos, vendo aquela merda queimar.
CONTINUA

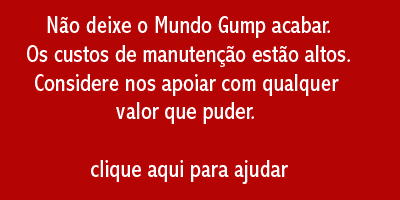















Como de costume, muito bom! Já aguardando a parte 23 Philipe!
A cadeira voltoooou!!!
Ai que saudade desse conto. Já tô prevendo que vai dar alguma merda e Albut vai sair do meio das chamas pra ferrar mais um pouquinho a vida do Renato e começar a merda na vida do narrador.
Achei que você ameaçou fechar o Mundogump só pra não finalizar a cadeira obscura!
Mas você não percebe que o mundogump é sua cadeira obscura, vai te acompanhar sempre! Agora sim Philipe!
Como vc pode ver, não teve nada a ver com a cadeira obscura.
ainda bem que não era so eu que achava que ele ia fechar o blog so pro pessoal parar de falar da cadeira obscura :D
Finalmente.. kkkkk
eeeeeeeeeeeeeeeeeee estava esperando por isso
Nossa meu Deus q ansiedade!!! Eu toh curiosa com o Leonard, o que será que aconteceu com ele!!!
Philipe muito bom, como sempre!!!