Raras foram as vezes que numa conversa de amigos, o nome de Argemiro acabava sendo citado de modo descuidado, como que por acidente.
Quando isso ocorria, imediatamente os meninos se entreolhavam espantados, como que pegos num ato falho terrível e condenável.
Argemiro, bom goleiro, magro, joelhos lanhados com algumas verrugas… O que lhe faltava em quilos sobrava em simpatia.
Era mestre do pique-esconde, campeão de corrida e senhor supremo das expedições ao terreno baldio.
Me lembro como se fosse hoje, da última vez que conversei com Argemiro. Era uma quinta-feira, antevéspera daquela festa da igreja, data em que beijei Suzana pela primeira vez.
Quando chegamos da escola, naquele dia, comemos esbaforidamente o almoço, com aflição de horário.
Era um problema, pois a mãe queria que comêssemos tudo, mas não podíamos comer muito rápido, senão, ela oferecia de a gente repetir, o que implicaria em atraso do nosso plano. Ou se comêssemos devagar demais, aquilo se tornaria um insulto grave às qualidades culinárias de mamãe, deixando-a irritada. Isso era igualmente um risco aos nossos compromissos.
Déramos a palavra de honra, e o futebol não poderia esperar.
O almoço era perto demais da hora sagrada do nosso futebol, de maneira que devíamos raspar o prato com avidez na medida certa, escovar os dentes e fazer um Mise en scène com os deveres de casa que já trazíamos feitos da escola.
Dada nossa carta de alforria, lá por volta de duas e meia da tarde, o sol vinha quente esquentando o asfalto. Saímos correndo.
Pé no chão, direto para o terreno da esquina. Aquele com mureta de chapisco.
Os meninos menores entravam pelo buraco que alguém havia escavado através do muro, mas era deselegante que alguém passasse por ali.
Isso eventualmente fazia com que nos empenhássemos para saltar o muro, e acabássemos nos machucando.
Mas ainda assim, era preferível se machucar que aceitar o lazarento e patético destino de passar pelo “buraco das crianças”.
Uma vez no terreno da oficina desativada, esperávamos os demais amigos do time, verificando as horas com grande aflição.
Quem chegava primeiro, tinha a prerrogativa de esculachar os demais por não estarem lá conforme o combinado.
Eu e meu irmão Murilo, fomos os primeiros a chegar, e esperamos que Ailton, Juninho, Orelha, Marcelo Gordo, além de Girlênio, Elvis e o Argemiro, chegassem.
Quando Miro finalmente pulou o muro, estava formado nosso time.
Como mandava a tradição de nossa irmandade, Miro, por ser o último a chegar, foi castigado com um pescotapa de cada membro do grupo, o que ainda hoje me dá um nó na garganta de remorso. Se eu soubesse do futuro, daria a ele um abraço, não um tapa.
Imediatamente montamos os times e assim começou o futebol, como sempre ocorria nos fundos do pátio da oficina.
Girlênio catou num gol, e Marcelo Gordo no outro. Fazíamos os gols com quatro latas de óleo, cheias de areia da obra. A única coisa que realmente era de qualidade, era a bola, que pertencia ao Juninho.
Estávamos ali jogando com grande tranquilidade, quando nos vimos enredados nos meandros inescapáveis do destino, que nos guardava uma ingrata surpresa.
Após cabecear a bola para dentro do gol, eu irritei Marcelo Gordo.
O placar já marcava três a zero para nós, e o Murilo começou a caçoar do gordo, junto comigo. O gordo foi ficando cada vez mais irritado a cada frango que ele tomava. Elvis começou a xingar a mãe do Marcelo gordo, e ele ficou ainda mais puto.
Marcelo quicou a bola duas vezes e deu uma violentíssima bicuda, mandando a bola pelo ar direto por cima do muro.
Quem chuta pra fora é quem busca, mas como o Gordo era ruim de trepar pelo muro, quase sempre recorrendo ao buraco das crianças, o Miro correu e pulou o muro.
Ficamos ali, sentados no chão de terra batida esperando que a bola voasse de volta por cima do muro, mas ela não veio. O que veio foi um barulho esquisito de um vidro quebrando. E depois, o som de um carro acelerando forte.
Começou a demorar muito e o Girlênio foi até o buraco do muro olhar.
Ele gritou alguma coisa que eu não me lembro, talvez por ter sido tão chocante, tão inesperado, tão violento, que apagou da memória.
Corremos todos para o buraco e eu vi o corpo do Miro caído ali no asfalto, como um cão baldio.
Passamos todos pelo buraco das crianças e fomos lá ver.
Juninho abaixou ao lado do Miro chamando por ele. Ele estava numa poça de sangue, que lentamente era absorvido no chão de terra batida. Ninguém disse nada. Nos entreolhamos em silêncio.
Ele estava emborcado, o olho arregalado. O braço estava quebrado com um osso meio marrom pra fora.
Olhei ao redor e não tinha viva alma naquela rua além de nós.
Não sabíamos bem como lidar com aquilo e assim começou uma rápida reunião sobre o que fazer.
Girlênio achava que devíamos levar o Miro para o hospital, mas Marcelo Gordo disse, muito solenemente, que “só se aceitam vivos no hospital”.
Aquele visivelmente não era mais o caso. Iniciou-se uma discussão sobre o destino do corpo de Argemiro.
Não tardou, começou uma saraivada de culpas. Os culpados a se acusar mutuamente.
“Se não fosse seu gol”, “se não fosse as brincadeiras de meu irmão”, tão escarnecedoras das características adiposas do Marcelo, “se não fosse o muro”, “se não fosse o Miro”…
O jogo de culpa girou pelo nosso grupo e recaiu sobre o esquálido monte de carnes, ossos e sangue que jazia aos nossos pés, caído na terra quente. E que não reagiu.
A culpa, evidentemente era dele, que pulou o muro e correu na rua sem olhar se vinha carro.
E agora estava ali.
Foi Girlênio, o mais velho, que disse que alguém ia ter que ir na casa da mãe do Miro contar pra ela.
Mas quem ia? Ninguém tinha coragem de ir.
Estava formado novo impasse. Iniciamos uma votação onde estava óbvio que Marcelo Gordo iria ser o “sorteado da missão”, mas já antevendo o futuro que lhe aguardava, Marcelo recusou prontamente e nem participou da votação.
Isso nos levou a uma série de ideias sobre o que fazer com o corpo do Miro.
Um de nós que não lembro quem, e mesmo que lembrasse, alegaria uma amnésia de conveniência, porque sou sujeito homem e não um dedo-duro, sugeriu que passássemos o corpo dele pelo buraco para tirar da rua, antes que outro carro chegasse, alguém visse e fizessem perguntas.
Precisando de tempo para pensar, deliberar e definir o que fazer com Miro, concordamos.
Pegamos cada um num pedaço dele, do jeito que dava, e carregamos o corpo, todo ralado e lanhado com cacos de vidro. Ele parecia inesperadamente mais pesado que o de costume. Passamos o Miro pelo buraco das crianças para dentro do terreno da oficina.
Lá dentro, deitamos aquele corpo magro perto do barracão, nos fundos, junto do matagal e dos pés de mamona.
Olhei os pés de mamona balançarem com o vento. Me lembrei de quando brincávamos ali, eu o Girlênio e o Miro, de pique-esconde.
Bem perto da cabeça sangrenta do meu amigo, no muro, ainda estava escrito o nome dele com um pedaço de carvão. Era carvão daquela fogueira que havíamos feito dois anos antes.
Marcelo Gordo puxou um pai-nosso e nós rezamos pelo Miro.
Depois que rezamos, o impasse logo retornou. O que íamos fazer com o Miro? Eu só pensava no tamanho da bronca que eu e o Murilo íamos levar em casa. O sol quente deu lugar a um vento meio gelado de primavera. Logo iria escurecer, e chegaria a hora de ir pra casa jantar. E naquela noite, o Miro não ia chegar.
O que nós poderíamos fazer?
Quando eu e o Murilo chegamos para tomar banho e jantar, a mãe achou que “estávamos muito quietos”.
Dissemos que perdemos no jogo e ela acreditou.
“Um dia se ganha, noutro se perde”, ela disse, enquanto mexia o macarrão, e concordamos com os olhos baixos.
Eu chorei no banho.
Depois, enquanto o Murilo tomava banho, fui até a escrivaninha do quarto e peguei na gaveta uma foto do ano passado, que eu e o Murilo tiramos com ele.
Foi no dia que o Juninho ganhou a bola de futebol de natal.
O Miro equilibrou a bola na cabeça e fizemos a foto diante da venda do Aristeu. Guardei aquela foto de nós três na Bíblia e me deitei.
Era tarde, já havíamos colocado os pijamas e estávamos prontos para dormir, quando tocou a campainha lá de casa.
Murilo me olhou com os olhos arregalados de pavor.
Eu evitei fitar meu irmão. Era a mãe do Argemiro. Ele não tinha aparecido para jantar.
Ela queria saber se ele estava com a gente. Nossa mãe disse que não e nos chamou. Descemos as escadas tremendo. Eu não sabia ainda se seria capaz de dizer qualquer coisa.
– Ele não jogou bola com a gente hoje, tia! – Disse o Murilo, com tamanha convicção, que me surpreendi com sua habilidade de mentir. Eu não teria sido capaz de transmitir tal certeza.
A mãe do Miro agradeceu e foi embora. Ouvi ela tocar a campainha da casa do Girlênio.
Naquela noite, eu fiquei lembrando da imagem do Miro caído no asfalto, emborcado, os ossos todos tortos e o rosto sangrento numa aterrorizante careta, cheia de terra e cacos.
Custei a dormir e pelo visto, o Murilo também.
No dia seguinte, nos reunimos no pátio da oficina. Era a véspera da festa e devíamos estar animados, mas as conversas em tom baixo, sem gritos ou risadas, eram sobre a terrível visita daquela mulher e seu marido, de casa em casa noite adentro.
Pobre titia. Ninguém havia falado nada, conforme combinamos.
Concordamos todos que seria melhor para ela nunca descobrir o corpo do filho daquele jeito, estropiado. Marcelo Gordo e Girlênio usaram a água do tanque para lavar o asfalto e Elvis e o Murilo varreram os cacos para dentro do matagal.
Os vizinhos procuraram incansavelmente, e nós até ajudamos a procurar e chamar pelo Miro.
Felizmente, não descobriram o Argemiro da casa 13. Nós fomos ao canto proibido do terreno da oficina. Ninguém teve coragem de olhar no latão de óleo. Só o Elvis. Ele disse que viu o tufo do cabelo do miro ainda pra fora do óleo e empurrou pra baixo com um pedalo de pau.
Miro ainda estava no mesmo lugar.
Foi triste ver a mãe e o pai dele definharem daquele jeito.
Miro era filho único e um bom amigo. A gente gostava da mãe dele e não queríamos ir ao enterro do Miro para ver ela chorar, ainda mais que se descobrissem ele, iria ser no dia da festa da igreja, e todos nós já tínhamos planos.
No Sábado de manhã, enquanto conversávamos na porta da casa do Marcelo Gordo, vimos um carro da polícia passando.
Eles ainda estavam procurando o Miro. Perdi as contas de quantas vezes nós tivemos que negar de pés-juntos que o Miro não apareceu para jogar com a gente naquela quinta-feira maldita.
À noite, nos arrumamos e fomos para a festa na praça.
Tinha muita gente, uma lona de circo, muitas barracas vendendo doces e quitutes, churrasquinhos e cachorros-quentes.
Os bêbados, os homens e as mulheres jovens cantavam ao som dos violeiros no jardim da igreja.
Todos estávamos animados, mas era uma animação estranha, faltava um pedaço em cada um de nós e aquele negócio trazia um sabor amargo, um nó na garganta, um medo estranho. Um arrependimento. Era como um machucado que sangrava sem sangue no coração da gente.
Mas eu logo esqueci aquele arrependimento, quando eu vi a Suzana. Ela era a menina que o Miro queria namorar. Ela estava sozinha, comendo uma maçã do amor na praça.
Argemiro era gamado naquela menina.
Eu sentei ao lado dela com meu salsichão, que eu comia com uma certa vergonha, tentando parecer um cavalheiro, muito embora, seja extremamente difícil comer aquilo sem parecer um troglodita.
Suzana me ofereceu uma mordida na maçã do amor. E eu fiquei vacilante sobre como fazer para oferecer a ela meu salsichão de uma maneira que soasse pouco obscena. Não queria parecer um tarado.
Vi que num outro banco, a uns 20 metros dali, perto da fonte, Murilo já estava atracado com a filha do Aristeu.
Houve então um princípio de confusão numa das barracas.
Dois bêbados começaram a se estapear ferozmente, acho que por causa de mulher, e alguém puxou uma faca.
Houve uma gritaria e correria súbitas e eu me levantei.
Pegando Suzana pela mão, corremos para perto das árvores, nos fundos da igreja, afim de nos proteger.
Briga providencial! Graças à briga que naquela região mais escura e deserta da festa, logo pude sentir o sabor da maçã-do-amor nos doces lábios da Suzana.
No fim da festa, eu levei minha nova namorada até o portão da casa dela. Nos despedimos com um beijo cálido e uma promessa de os vermos de novo, no domingo depois da missa.
De lá, atravessei a linha do trem e me encontrei com Murilo, que estava me esperando perto do muro do cemitério, conforme combinado.
Voltamos pra casa pela escuridão das ruas. A lua cheia no céu iluminou nosso caminho. Murilo contava sobre como Sônia, a filha do Aristeu, beijava bem.
Evitei comentários deselegantes sobre Suzana, porque ela era interesse do Miro e eu não queria parecer um fura-olho de defunto.
Alta madrugada.
Acordei com um calafrio horroroso, e uma angustia a me apertar as entranhas. Abri os olhos imóvel no meu quarto, assustado.
Eu senti uma coisa estranha.
Uma sensação esquisita… No escuro do quarto, parecia que havia alguém de pé, junto da cortina.
Arrepiado, eu não ousei dizer nada. Apenas fiquei com os olhos arregalados de medo, apontados para a forma escura parada perto da cortina. O fraco vento da noite que penetrou pela fresta da janela trouxe consigo o odor de óleo.
Era o cheiro do óleo diesel e da carne morta.
Eu não me lembro de ter tremido tanto. Cobri a cabeça com o lençol e fiquei a rezar seguidamente o Pai-Nosso.
Não me lembro de muitas coisas além da profunda angústia e tristeza que me atingiam o coração. Quando dei por mim, estava sendo sacudido por Murilo, muito aflito. Já tinha amanhecido o dia.
Ele não me disse nada. Apenas apontou o chão e vi as pegadas pretas de óleo pelo piso do nosso quarto.
Não tive coragem de dizer nada. Nem Murilo, mas vi nos olhos dele o mais profundo medo.
Naquele dia, na igreja, nossos amigos nos contaram que no quarto de cada um deles, apareceram pegadas de óleo. Ninguém sabia explicar. E nem precisava.
Fomos de tarde até o terreno da oficina. Elvis era o único que tinha coragem ir olhar no latão, mas dessa vez, ninguém teve coragem de remexer o tonel e incomodar o Miro.
Semanas depois, mamãe nos contou que a mãe do Argemiro da casa 13 estava feliz. Havia recebido uma carta dele.
Segundo ela, Miro estava bem. Havia viajado na boleia de um caminhão. Pedia desculpas por sair sem despedir e dizia que precisava “viver aventuras”. O mundo era pequeno demais para o Miro.
Mamãe nos contou intrigada. Segundo ela, na carta, ele dizia aos pais que Viajaria o país de Caminhão e quem sabe um dia, regressaria para encontrar cada um dos amigos que deixou para trás.
“Deixou na carta um abraço para cada um de vocês”, ela disse.
Engoli em seco quando mamãe comentou que a carta estava toda suja de óleo de caminhão.

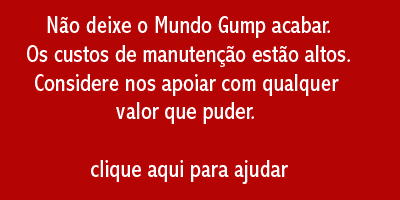















história boa! parabéns, Philipe
até a próxima
Ótima história de um capítulo só, mesmo lendo no começo da tarde, deu um certo medo do Argemiro deixando pegadas